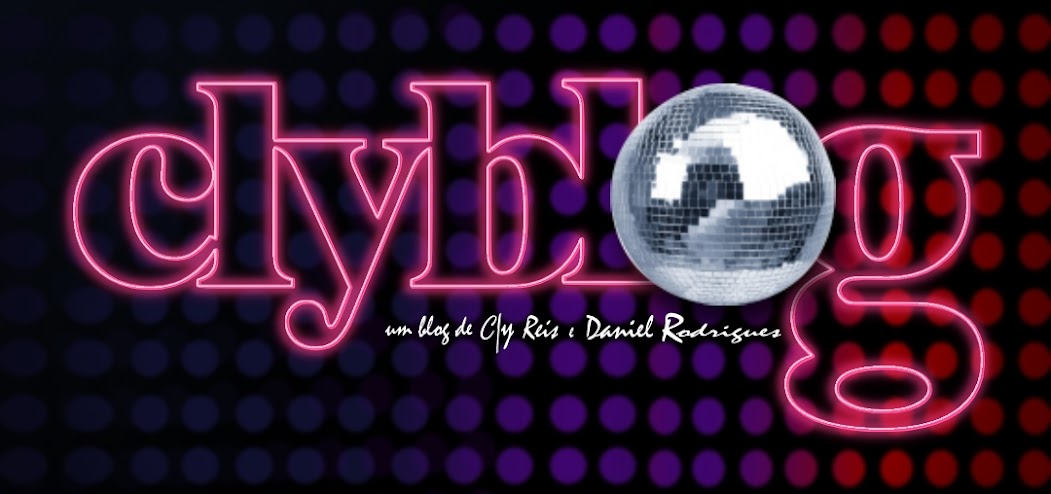“Do radinho de pilha
às produções do Liminha
(e este novo disco e um
escândalo de textura e limpidez sonora)
os Titãs vem marcando
a vida brasileira
com suas canções brutas e límpidas
com suas canções brutas e límpidas
seus temas básicos
apresentados em forma de anti-panfletos
canções
crescentemente gráficas, cujos títulos
(“Comida”, “Televisão”, “Flores”, “Igreja”, “Miséria”, etc.)
(“Comida”, “Televisão”, “Flores”, “Igreja”, “Miséria”, etc.)
parecem a um tempo
bastar, faltar e sobrar;
canções-cartaz,
canções-pichação, palavras-de-desordem
(em ordem) que os aproximam da poesia concreta
(em ordem) que os aproximam da poesia concreta
no momento “salto
participante”, palavrões limite.
Bichos escrotos.
Cabeça
dinossauro.
Alta sofisticação
intelectual e tecnologia aliada a brutalidade.
Titãs andando com
desenvoltura em ambiente de eletrônica miséria.
Õ Blésq Blom."
Caetano Veloso
Depois de "Cabeça Dinossauro", um álbum que revolucionara a música brasileira, foi
gerada uma grande expectativa a respeito de seu sucessor, um misto de
incredulidade e esperança de que o trabalho seguinte conseguisse no
mínimo, chegar perto da qualidade daquele. E não só conseguiu se
se aproximar o como superou. Embora a aura e a mitologia mantenham
“Cabeça dinossauro” como uma lenda da discografia brasileira,
tecnicamente falando, "Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas" era superior a seu antecessor. Era um passo adiante no
que dizia respeito à linguagem, à experimentação, ao minimalismo,
à força, ao conceito e à produção. Mas e então o seguinte? Está
certo que nesse meio tempo entre um álbum e outro, foi lançado o
excelente “Go Back”, um registro ao vivo em Montreux, que apoiado
em grande parte no repertório dos dois álbuns citados, mantinha o
nível de qualidade do momento que a banda vivia.
Mas de estúdio?
Material novo? O que fariam desta vez? Os Titãs poderiam fazer
alguma coisa melhor que “Cabeça Dinossauro” e “Jesus Não Tem
Dentes no País dos Banguelas”?
Por incrível que possa
parecer a resposta era SIM!
Embora "Cabeça Dinossauro" permanecesse incólume em seu Olimpo como o grande álbum brasileiro de todos os tempos, pelo seu rompimento, inovação, linguagem, “Õ Blésq Blom”,
de 1989, era ainda mais trabalhado tecnicamente, os conceitos haviam
sido aprimorados, a agressividade filtrada, o experimentalismo
amadurecido, elementos de música brasileira eram agregados e o resultado disso tudo era um disco simplesmente brilhante.
Desde a concepção da
capa, com uma colagem meio punk/pop art que já sugere a ideia
musical de superposição de elementos com a utilização de fontes
diferentes e disposição livre para compor o nome do álbum, que por
sua vez já é uma pequena composição concretista, o disco já se
mostra especial. A impressão de que ali há algo diferente se
confirma assim que o álbum inicia com a vinheta de abertura, uma
gravação de dois artistas de rua da Praia da Boa Viagem, Mauro e
Quitéria, numa espécie de rock'n roll-repente multi-idiomático que
serve de introdução para a espetacular “Miséria”, que aí sim,
abre o disco, efetivamente. Um petardo eletrônico, quebrado, com
influências que incorporam funk, punk, reggae, rap contando com
incontáveis e variados recursos de estúdio. Dançante, vibrante,
surpreendente pela ousadia e pela sonoridade, “Miséria”, como
primeira faixa era estrategicamente responsável por apresentar a
nova proposta dos Titãs e mostrar a que vinha “Õ Blésq Blom”.
A inteligentemente
provocativa “Racio Símio” seria um daqueles tradicionais rocks
agressivos e pesados dos Titãs se não fosse a produção
caprichada, cuidando de cada detalhe e instrumento. A
descontraída “O Camelo e o Dromedário” confirmava que a banda
continuava nos caminhos já trilhados em reggaes como “Marvin” e
“Família” só que com um tratamento mais experimental de coisas
como “O Quê?”, e ao mesmo tempo mais técnico de músicas como
“Comida” e “Diversão”.
“Palavras” de ritmo
acelerado, letra interessante e bom trabalho de guitarra é apenas
boa; mas “Medo” que a segue é excepcional. Punk rock típico
Titãs com uma estridente guitarra minimalista de Tony Belloto e
vocal furioso de Arnaldo Antunes para sua própria letra que versa sobre o
processo de criar e de sentir a arte.
Com “Flores”,
grande sucesso em rádios e TV's, de vídeo premiado na MTV
americana, talvez os Titãs tenham conseguido o grande ponto de
equilíbrio entre sua proposta roqueira e seu alcance popular com uma
canção pop impecável que agradava tanto aos fãs quanto ao grande
público sem abrir mão da linguagem formal, verbal e sonora
características.
Talvez o grande momento
técnico e criativo do álbum seja “O Pulso”, composição
inspiradíssima sob todos os aspectos: a produção do nono Titã,
Liminha, que entendeu a proposta e ajudou a materializar um elemento
musical praticamente orgânico, a instrumentação precisa numa
música de estrutura pouco convencional, e a letra mutante e
instigante de Arnaldo Antunes. Com uma programação eletrônica que
se repete constante do início ao fim da música, remetendo aos
batimentos cardíacos, “O Pulso” cria uma admirável ligação
som-conteúdo por conta de sua letra, uma listagem de doenças
do corpo e da mente, intercaladas com outros elementos, como rancor,
ciúme e culpa, que por analogia acabam por ser tratadas pelo autor
como males tão sérios. Os Titãs que já perguntaram de que
tínhamos fome, agora perguntavam do que estávamos adoecendo e, na
entrelinha, se valia a pena.
“32 Dentes” talvez
seja a mais brasileira das músicas do grupo, com uma levada muito à
sertanejo num punk-rock agressivo que em poucas frases manifesta toda
a descrença e decepção com a humanidade; a interessante
“Faculdade” lembra um pouco o formato de “Miséria” porém
não com a mesma qualidade; e “Deus e o Diabo”, outra das
experimentações eletrônicas, um funk meio hip-hop, com uma letra
toda dicotômica que fala, de certa forma, sobre os conflitos
internos que há em cada um de nós, termina emendando em outra
palhinha de Mauro e Quitéria com seu rock-repente numa vinheta final
que arremata o álbum como uma síntese de tudo o que se apresentou
até ali: intuitividade, espontaneidade, poesia, improvisação,
brasilidade, rock'n roll.
Agora sim, se alguém
duvidava que depois de “Õ Blésq Blom” os Titãs não fariam
nada melhor, acertou. Tentando provar coisas para si, para os outros,
errando em escolhas, perdendo integrantes, fazendo excessivas
concessões, cedendo às exigências da mídia, tentando agradar,
envelhecendo em espírito, os Titãs se perderam. A obra ficou pobre,
insossa, incoerente e enfim, irrelevante.
Mas os Titãs podem se
orgulhar de, num período de aproximadamente 4 anos além de terem
produzido uma das maiores trilogias da discografia nacional, “Cabeça
Dinossauro”, “Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas” e
“Õ Blésq Blom”, de terem sido uma das bandas mais interessantes
do mundo naquele momento.
Parafraseando o último
verso de Mauro e Quitéria na vinheta de encerramento: Os reis do
rock.
Bye, bye!
*******************************
FAIXAS:
01.
Introdução por Mauro e Quitéria
02. Miséria
03. Racio Símio
04. O Camelo e o Dromedário
05. Palavras
06. Medo
08. Flores
09. O Pulso
10. 32 Dentes
11. Faculdade
12. Deus e o Diabo
13. Vinheta Final por Mauro e Quitéria
02. Miséria
03. Racio Símio
04. O Camelo e o Dromedário
05. Palavras
06. Medo
08. Flores
09. O Pulso
10. 32 Dentes
11. Faculdade
12. Deus e o Diabo
13. Vinheta Final por Mauro e Quitéria
*****************************
Ouça:
Cly Reis