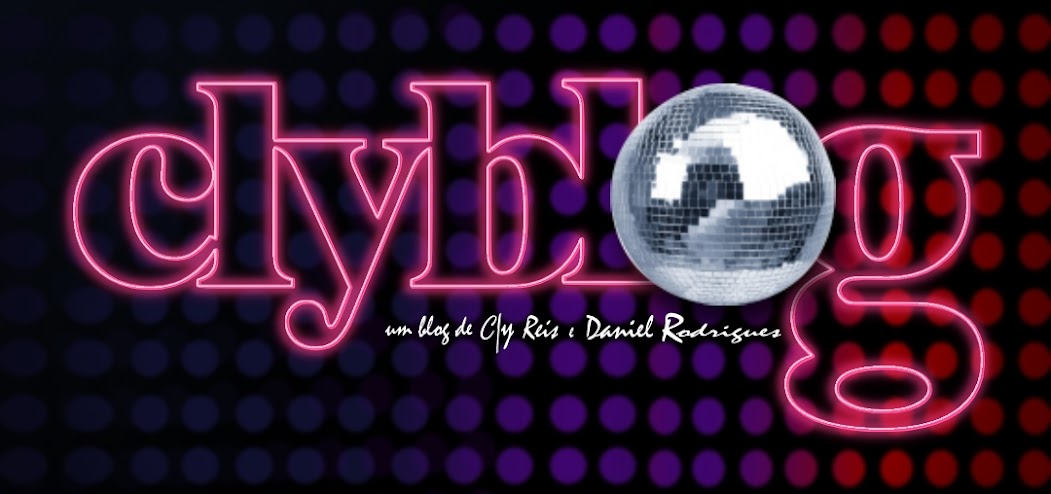segunda-feira, 13 de junho de 2016
Edu Lobo e Antonio Carlos Jobim - “Edu & Tom/Tom & Edu” (1981)
segunda-feira, 4 de janeiro de 2016
“Chico: Artista Brasileiro”, de Miguel Faria Jr. (2015)
Estão sempre tentando pegar Chico Buarque. Acusações por apoio ao PT, pela não-defesa das biografias não-autorizadas, por trair a ex-mulher, por ser um tiozão que “pega” meninas, pela linhagem nobre dos Buarque de Holanda, por ser “esquerda caviar”, por usar a fama como músico para vender-se como escritor. Até culpá-lo por ter olhos azuis já ouvi algo do tipo. Parece-me salutar e pertinente que, justamente no momento em que se lança o já sucesso de bilheteria “Chico: Artista Brasileiro”, de Miguel Faria Jr., aconteça mais um episódio do tipo: a tão noticiada discussão do artista com um passante cujo motivo junta às imbecilidades mencionadas acima mais uma delas: a de Chico ter um apartamento em Paris (!...).
Essa manifestação raivosa e incontida dessa direita burguesa, invejosa e preconceituosa – que, como diz Eric Nepomuceno, saiu do armário, e isso desde os protestos de 2013 –, é mais um dos casos em que se tenta enquadrar Chico e ele sai, se não ileso, íntegro. O filme passa isso: a integridade de um artista cujas bases e conceitos estão profundamente ligadas ao Brasil mais expressivo, seja em suas belezas ou moléstias. Com uma narrativa que intercala depoimentos de amigos e admiradores com as do próprio Chico de dentro de seu maravilhoso AP no Alto Leblon (mais longas que as falas dos outros), traz ricas imagens de arquivo entre fotos e vídeos, algumas surpreendentes pois muito raras, como um trecho da histórica apresentação de “Cotidiano” dele com Caetano Veloso no Teatro Castro Alves (presente no disco ao vivo da dupla de 1972). Igualmente surpresa é o depoimento de Vinícius de Moraes – ao qual eu pelo menos não conhecia – dizendo que o amigo era alguém acima da média.
 |
| Chico em um dos depoimentos do filme. |
Os assuntos, entremeados entre si mas recorrentemente redirecionados à questão da família, são profundos, mas conduzidos pela serenidade de Chico. Ele passa a impressão de literalmente não dever nada a ninguém. Ou melhor, deve, mas a si mesmo, uma vez que o próprio diz que sempre cai na encruzilhada de não se repetir, por mais consagrado que seja aquilo que realizou até então. O negócio dele é se experimentar, aprender, inovar-se – um dos motivos pelos quais caiu tão de cabeça na literatura dos anos 90 para cá. Entra-se, igualmente, em assuntos como política, censura, fracasso, sucesso, memória, Brasil, morte, futebol e paixões. Tudo dito por ele e seus parceiros (Edu Lobo, Tom Jobim, Maria Bethânia, Ruy Guerra, entre outros) com leveza e sinceridade, sem superdimensionar nada, porém sabendo-se da grandeza da vida e obra do autor de incontáveis clássicos do cancioneiro brasileiro como “Olhos nos Olhos”, “Cálice” e “Roda Viva”.
Outro elemento interessante do filme, característico dos documentários de Faria Jr., são as apresentações em estúdio com músicas do autor. Além de muito bem cenografadas e iluminadas, trazem duas com o próprio Chico cantando (“Sinhá”, no começo, e “Paratodos”, no fim) e outras com artistas convidados, como Milton Nascimento, Carminho, Adriana Calcanhoto e Mart’nália. Esses momentos musicais, que provocam obrigatoriamente pausas no fluxo narrativo, não o quebram, entretanto. O que para muitos foi danoso no documentário que o diretor fizera sobre o poetinha (“Vinicius”, 2005), pois incorria justamente nessa instabilidade (quando o expectador estava engrenando na história, vinha uma declamação duvidosa da Camila Morgado pra chatear), em “Chico...” funciona bem, pois os números se integram de algum modo à narrativa. É o que acontece quando Chico está falando sobre a complexidade inconsciente de alguns temas que compôs e, na sequência, vem, na voz de Mônica Salmaso, “Mar e Lua”, canção que explora temas espinhosos como homossexualismo e suicídio. Afora isso, todas as apresentações são muito boas: Milton e a portuguesa Carminho juntos (um arraso em “Sobre todas as coisas”); Calcanhoto e Mart’nália, em um dueto ótimo (“Biscate”); Ney Matogrosso (“As vitrines”), impecável como de costume; Moyseis Marques (“Mambembe”), lindo, uma revelação para mim; e até o “pagodeiro” Péricles (“Estação Derradeira”) mandando bem sobre o especial arranjo do diretor musical do filme e do próprio Chico, Luiz Cláudio Ramos.
 |
| Até Péricles se saiu bem interpretando Chico. |
A caça a essa “nova velha” história do irmão da Europa, uma reconstrução tão hipotética quanto passivelmente improvável (haja vista que, jogado na aventura da descoberta, poderia não achar nada significativo que lhe fornecesse nexo suficiente), dá um toque muito especial ao longa. Tal como é comum mais na ficção, Faria Jr. (um bom ficcionista) joga com os três níveis básicos do cinema: interno, externo e espectatorial, uma vez que esse elemento, a figura/ideia do irmão (o qual podemos classificar como “interno”) é desconhecido tanto do “protagonista” (Chico, no caso), quanto do espectador, configurando-se num “gancho” gerador de curiosidade e suspense a todos, dentro e fora da tela. Como o grande documentarista Eduardo Coutinho tão bem fizera no clássico “Cabra Marcado para Morrer” (1984), em que a busca aos atores de seu filme interrompido nos anos de Ditadura Militar serve de motivo para uma ressignificação metalinguística cuja aleatoriedade imputa-lhe o teor crítico almejado.
Saborosamente biográfico, “Chico...” já seria bom por vários outros fatores – as canções, as histórias engraçadas, a reverência dos colegas e amigos, as identificações que se têm com alguém tão admirável como ele –, mas o “elemento-irmão” é a cereja do bolo. Mal comparando, traz uma sensação semelhante a que tive com o desfecho que Martin Scorsese forjou em “No Direction Home”, sobre Bob Dylan (2005), naquela cena em que se esquece a câmera ligada apontando para o teto no fatídico show no Manchester Free Trade Hall, em 1966. Qualquer ser minimamente normal excluiria aquilo como sendo um erro de gravação. Scorsese, não: com atenção e sensibilidade, resgatou-a e compôs com aquilo o significado mais expressivo e simbólico do filme.
Em respeito aos que ainda não assistiram a “Chico...”, claro, não vou contar exatamente a que me refiro para não estragar a surpresa. Independente disso, contudo, só o fato de contar a história de alguém vivo e em atividade, tanto quanto o de expô-la com sensibilidade e critério, já vale a sessão. O que se confirma é a coerência da obra de Chico, sempre afinada com seu íntimo e consciência, seja na música, no teatro, no cinema ou na literatura. Uma dignidade admirável jamais abalável por um mero ataque verbal nas calçadas da vida. Chico Buarque, o grande artista brasileiro e mundial, é muito maior que essas más-resoluções do brasileiro ignorante e “vira-lata”, o que, sem precisar forçar, o filme deixa muito claro.
trailer oficial "Chico: Um Artista Brasileiro"
quinta-feira, 10 de junho de 2021
Protagonistas coadjuvantes
 |
| Michael dando um confere bem de perto no que seu mestre Stevie Wonder faz em estúdio, nos anos 70 |
Há também aqueles que dificilmente se supõe que fariam algo fora de seus trabalhos pelos quais são mais conhecidos. Mas vasculhando com atenção as fichas técnicas dos discos, acha-se. Vez ou outra se encontra um artista que geralmente é visto apenas como protagonista atuando, deliberadamente, como um coadjuvante. E não estamos nos referindo àqueles principiantes que, posteriormente, tornar-se-iam ilustres, caso de Buddy Guy em “Folk Singer”, de Muddy Waters, de 1959, na primeira gravação do jovem Guy, então com 18 anos, com o veterano bluesman, ou Jimi Hendrix nas gravações de 1964 com a Isley Brothers anos antes de transformar-se num ícone do rock.
Aqui, referimo-nos àqueles que, já consagrados, abriram mão de seu status em nome de algo que acreditavam seja para um disco, um projeto, uma música ou um show. São momentos em que se vê verdadeiros mitos descerem de seus altares para, humildemente, colaborarem com a música alheia, seja por admiração, amizade, sentimento de dívida ou o que quer que explique. O fato é que esses “protagonistas coadjuvantes”, mesmo que estejam escondidos ou somente encontráveis nas miúdas letras da ficha técnica, abrilhantam com seus talentos peculiares a obra de outros.
Os anos 80 foram de inquietude para Robert Smith, líder da The Cure. Sua banda já era uma das mais celebradas do pós-punk britânico em 1983 quando ele, que havia lançado um ano anos o disco único “Blue Sunshine”, da The Glove, projeto em parceria com Steven Severin, decide dar um tempo com o grupo. Mas para quem estava a pleno naquela época, Bob “descansou carregando pedra”, como diz o ditado. Ele decide fazer parte da Siouxsie & The Banshees, banda coirmã da The Cure, mas estritamente como integrante. Com os vocais e o palco já devidamente preenchidos por Siouxsie, Robert assume as guitarras e une-se a Severin (baixo) e Budgie (bateria) para compor a melhor formação que a Siouxsie & The Banshees já teve. Não deu outra: dois discos, duas pérolas, para muitos os melhores da banda: “Hyenna” e o ao vivo “Nocturne”.
Mais do que na música pop, é comum no jazz grandes astros e band leaders tocarem na banda de colegas. Isso não funciona, entretanto, para Miles Davis. O talvez mais exclusivo músico do jazz havia tocado no início da carreira para Sarah Vaughan, mas depois jamais fez nada que não fosse tão-somente seu. Até que, com jeitinho, em 1958, o amigo Cannonball Adderley convida-o para participar das gravações de um disco que ele estava por lançar e no qual teria ainda Art Blakey, na bateria, Hank Jones, no piano, e Sam Jones, no baixo. Uma sessão de gravação apenas, só cinco números, algumas horinhas de estúdio com Rudy Van Gelder na mesa, engenheiro com quem Miles tanto estava acostumado a trabalhar. "Não vai custar nada. Diz, que sim, diz que sim!" Tanto foi, que Miles topou, e saiu "Somethin' Else", aquele que é o disco que antecipa a obra-prima “Kind of Blue”, em que, reassumido o posto de front man, aí é Miles que conta com o parceiro saxofonista na banda. Tudo de volta ao normal.
É conhecida a versatilidade de Paul McCartney. Multi-instrumentista, ele é capaz de tocar, em apenas um show, vários instrumentos ou gravar um disco inteirinho sozinho sem precisar de mais ninguém no estúdio. Quem também fez isso foi Dave Grohl, líder da Foo Fighters, que, no álbum de estreia da banda, em 1995, toca não apenas a bateria, que era seu instrumento na Nirvana, como todos os outros. A amizade e talvez essa semelhança tenham feito com que chamasse o eterno beatle para uma empreitada 12 anos depois. Fã de Macca, ele convidou o veterano músico para gravar para ele não a guitarra, o piano ou a voz. Isso, muita gente já havia feito. Ele pediu para Paul tocar justamente bateria. A “brincadeira” deu super certo, como se vê na canção "Sunday Rain" presente no disco "Concrete And Gold".
É uma música apenas, mas considerando o tamanho deste “coadjuvante”, vale por um disco inteiro. A linda e melodiosa “All I Do”, que Stevie Wonder gravaria em seu “Hotter than July”, de 1980, conta com ninguém menos que Michael Jackson nos vocais. E não se trata da voz principal, e sim do backing vocals! Surpreende ainda mais que o Rei do Pop já havia lançado à época o megassucesso “Off the Wall”, de um ano antes, com o qual revolucionaria a música pop e que quebrara os paradigmas de vendas da música negra no mundo. Mas a devoção de Michael para com Stevie era tamanha, que ele nem se importou em fazer um papel secundário. Para quem era conhecido pela habilidade de canto e arranjos de voz, no entanto, o que seria uma mera participação contribui sobremaneira para a beleza melódica da canção.
terça-feira, 7 de junho de 2011
Antônio Carlos Jobim - "Urubu" (1976)
Já consagrado, o maestro Antônio Carlos Jobim, embrenhava-se a partir do disco “Matita Perê” de 1973, por caminhos pouco explorados por sua obra, colorindo-a mais ainda de verde e amarelo. Não que seu trabalho, mesmo embasado no erudito e recheado de jazz não fosse legitimamente brasileiro; suas influências, suas cadências e sua levada indesmentivelemente sambista não deixam margem de dúvida, mas a partir daquele momento e especialmente com “Urubu” de 1976, Tom agregava à sua música elementos da natureza, da fauna e flora brasileiras, paisagens, tradições, cânticos regionais e instrumentos típicos. Provas disso são a gostosa “Correnteza” com seu jorro de frescor; a sutil sugestão de integração homem-natureza de “Arquitetura de Morar”; a evocação (meramente sonora) de paisagens em "Saudades do Brazil"; e sobremaneira a espetacular “O Boto” com sua introdução de berimbau que dá sequencia a um arranjo que imita natureza, incrementado por inserções de apitos e sons de pássaros, e versando sobre lendas e contos brasileiros.
Mas o disco não se resume a estas recentes brasilidades de Tom e traz canções mais tradicionais dentro de seu estilo e discografia como a romântica “Lígia”, a tristonha “Ângela”, o valseado forte de ”Valse” do filho Paulo Jobim e a intensa e dramática “O Homem” que encerra a obra.
Com arranjos de Claus Ogerman e acompanhamentos de sua orquestra, escolhidos pelo próprio Tom, “Urubu” mostra um compositor maduro e completamente senhor de si, brincando livremente com todo seu talento e técnica produzindo uma obra única e admirável.
Álbum para se ter me LP. Disco com lado A e lado B: o primeiro todo com os vocais roucos e característicos do mestre Tom, incluindo uma participação de Miúcha em "O Boto"; e o lado 2 somente com temas orquestrados instrumentais extemamente refinados e sofisticados.
Obra de arte!
***********************
FAIXAS:
1- Bôto (Porpoise)
Antonio Carlos Jobim / Jararaca
2- Lígia
Antonio Carlos Jobim
3- Correnteza (The Stream)
Antonio Carlos Jobim / Luiz Bonfá
4- Ângela
Antonio Carlos Jobim
5- Saudade do Brazil
Antonio Carlos Jobim
6- Valse
Paulo Jobim
7- Arquitetura de morar (Architecture to live)
Antonio Carlos Jobim
8- O Homem (Man)
Antonio Carlos Jobim
*********************
Ouça:
Tom Jobim Urubu
quarta-feira, 11 de janeiro de 2012
João Gilberto - "João Gilberto" (1973)
"João Gilberto", de 1973, não é tão importante quanto “Getz/Gilberto” (1964), obra-prima e definitiva difusora da bossa nova para o mundo; não sustenta a idolatria e o pioneirismo de “Chega de Saudade” (1958), precursor de todo o movimento e referência a TODOS os artistas de MPB a partir de então; nem é tão clássico quanto “Amoroso” (1977), cujo repertório escolhido a dedo traz orquestrações que se harmonizam à voz e ao violão com assombroso requinte. Mas “João Gilberto” é, certamente, o mais João Gilberto dos João Gilberto. Mínimo, detalhista, preciso, econômico, delicado. Perfeito.
De fato, é difícil apontar apenas um disco de João como fundamental. Sua obra é um verdadeiro evangelho de toda a música popular brasileira moderna. E isso se reafirma a cada esporádica gravação que faz. Seu estilo revisita toda a tradição do samba, de Nazareth ao batuque do morro. Moderno e tradicional ao mesmo tempo, o modo de cantar de João passeia com naturalidade de Orlando Silva a Chet Baker, passando por Mário Reis, Carlos Gardel, Vicente Celestino, Cartola, Bola de Nieve e Elizeth Cardoso num lance. Isso tudo aliado a uma técnica inovadora de tocar e, mais do que isso, de estruturar a melodia.
Até o advento da bossa nova, as notas dissonantes nunca haviam sido empregadas em música popular em nenhum lugar do mundo com tamanha exatidão e consciência e em sintonia perfeita (mesmo quando “fora” do compasso, coisa comum em João) como as que consegue extrair de seu violão. Toda essa gama de referências poderia muito bem virar uma salada sonora ininteligível; mas nas mãos e no gogó dele se cristalizaram no mínimo, no volume baixo e apenas audível, no controle absoluto da voz e dos silêncios. Num acorde tão bem elaborado e executado que vale por uma escola de samba inteira.
O que dizer, então, do álbum? Para começar, nada mais, nada menos, talvez a mais bela gravação da mais bela música já composta nesses pagos tupiniquins: “Águas de Março”, de Tom Jobim .
Já está ali a tônica do disco: voz e violão perfeitamente modulados – a ponto de se escutar os trastes do violão, a respiração e a umidade da língua – acompanhados de uma econômica percussão. Nada mais (e precisa?). A harmonia feita sobre esta melodia indefectível é de uma beleza tamanha que chega a me fugir à compreensão. Faz-me lembrar o que o fã incondicional Caetano Veloso diz sobre o ídolo: “ninguém consegue mudar tanto mudando tão pouco”. É, de fato, complexo e mínimo como um traçado de Niemeyer, como uma remoinhante de Van Gogh, como um solo de Miles Davis .
Na sequência, “Undiú”, das raras composições do próprio João e uma de suas mais inspiradas. Trata-se de um samba-de-roda meio baião Gonzaga, meio valsa minimalista, meio canto de pescadores a la Caymmi, em que João articula, com uma afinação incrível, alguns fonemas sem sentido sintático, mas repletos de sentido melódico. Em seguida, o baiano verte outro clássico da MPB. Ou melhor: o reelabora. “Na Baixa do Sapateiro”, de Ary Barroso, vira uma peça instrumental tão bem arranjada e executada que sua partitura poderia muito bem servir como o 13º Estudo para Violão de Villa-Lobos.
Em “Avarandado” e “Eu Vim da Bahia”, dos então “novos baianos” Caetano Veloso e Gilberto Gil , respectivamente, o “velho baiano” tem a coragem de gravar os amigos conterrâneos recém retornados do exílio – ou seja, ainda sob vigília pelo governo militar. Mas João nem quis saber. E as duas músicas são lindas: “Avarandado”, brejeira e apaixonada, e “Eu vim...”, aquele samba radiante e colorido cheio de África-Brasil por todas as notas como só Gil sabe fazer.
Entre as que mais escuto estão “Falsa Baiana” e “Eu Quero um Samba”, tomadas de “requebros e maneiras”, de um swing pleno e natural. Aí vem “Valsa” ou “Bebel” ou “Como São Lindos os Youguis”, outra de autoria de João composta para a filha, a hoje mundialmente conhecida Bebel Gilberto, à época com 6 anos. É uma bela “valsa de ninar”, sem letra, só cantarolada. Imagino que os “Youguis” do subtítulo deviam fazer muito sentido para aquela criança (tanto que os considerava “lindos”). Mas que privilégio ser ninada com uma maravilha dessas, hein? Só podia virar cantora.
A triste “É Preciso Perdoar” e o divertido samba-crônica “Izaura”, a única em que divide os vocais – o que o fez muito bem com Miúcha, mãe de Bebel e então esposa –, fecham este disco inigualável dentro da música brasileira por sua simplicidade e coesão. Seria ridículo dizer que aqui João Gilberto atinge a maturidade musical, pois se trata de um artista que já nasceu maduro. Mas faz sentido pensar que, nesses idos, início dos 70, a bossa nova teve tempo de ser criada, exportada e assimilada por tropicalistas e outrem, a ponto de suas notas dissonantes se integrarem ao som dos imbecis. Tom, Vinícius e ele já haviam entrado para a história pela criação de um estilo musical tão rico que somente meia dúzia de jazzistas, roqueiros e eruditos da vanguarda conseguiram tal feito no século XX. Então, era hora de pegar o banquinho, o violão, aquele amor e 10 canções selecionadas com primor como João sempre soube fazer. Tudo isso para quê? Para ensinar ao mundo como se ouve o silêncio.
****************************
FAIXAS:
1 - "Águas de Março" (Tom Jobim) – 5:23
2 - "Undiú" (João Gilberto) – 6:37
3 - "Na Baixa do Sapateiro" (Ary Barroso) – 4:43
4 - "Avarandado" (Caetano Veloso) – 4:29
5 - "Falsa Baiana" (Geraldo Pereira) – 3:45
6 - "Eu Quero um Samba" (Janet de Almeida, Haroldo Barbosa) – 4:46
7 - "Eu Vim da Bahia" (Gilberto Gil) – 5:52
8 - "Valsa (Como são Lindos os Youguis)" (João Gilberto) – 3:19
9 - "É Preciso Perdoar" (Alcivando Luz, Carlos Coqueijo) – 5:08
10 - "Izaura" (Roberto Roberti, Herivelto Martins) – 5:28
*************************
Ouça:
João Gilberto 1973