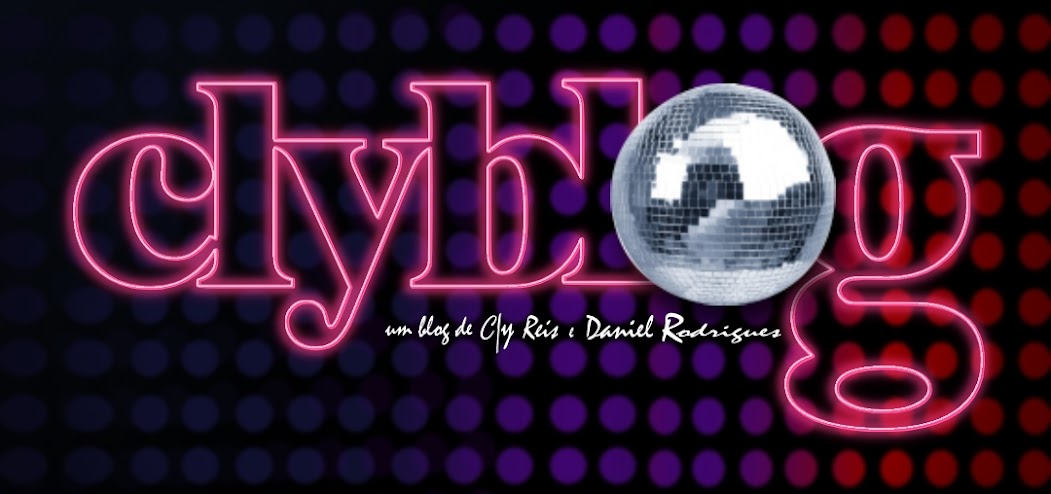"Esses gerais são sem tamanho." Guimarães Rosa, "Grande Sertão: Veredas"
"Sou o mundo, sou Minas Gerais."
Da letra de "Para Lennon e McCartney", de Lô Borges, Marcio Borges e Fernando Brant
Tom Jobim e o
desenho sinuoso e sensual da Rio de Janeiro.
Dorival Caymmi
e a Bahia dos pescadores e santos do candomblé.
Moondog e as
pradarias inóspitas do Wyoming.
Robert Johnson
e as infinitas plantações de algodão do Mississipi.
Violeta Parra e
a imensidão das cordilheiras andinas.
É sublime
quando um músico consegue atingir tamanha simbiose entre ele e seu espaço, a
ponto de passar a representar, através de sua arte, uma paisagem física. É como
se ele fosse, por intermédio dos sons, não originário deste lugar, mas, sim, o
próprio lugar.
Milton Nascimento é um destes seres que, como o próprio nome indica, nasce e gera a própria
terra, Minas Gerais. O homem que integra a seu próprio nome um estado inteiro,
o seu mundo. E não digam que Mi(lton) Nas(cimento) é mera coincidência
linguística! Mais correto é afirmar que os Deuses - os do candomblé, da Igreja,
muçulmanos, indígenas, todos aqueles que perfazem a cultura mineira - assim
quiseram a este carioca desgarrado abraçado como um filho pelos morros de cor ferrosa
das Gerais, os quais, junto à lúdica maria fumaça, ele mesmo representa na
icônica capa em desenho a próprio punho. Como um ser pertencente àquela terra a
qual se homogeiniza.
Em meados dos
anos 70, Milton já havia percorrido muita estrada de terra na boleia de um
caminhão. Na faixa dos 35 anos, pai, casado, consagrado no Brasil e no
exterior, idolatrado e gravado por Elis Regina, mentor do movimento musical
mais cult da modernidade brasileira, autor de algumas das obras mais icônicas do
cancioneiro MPB. O reconhecido talento como compositor, cantor, arranjador e
agente catalisador misturava-se, agora, com a sabedoria da maturidade - como se
ainda coubesse mais sabedoria a este ser nascido gênio. Quase que naturalmente
a quem já havia ganhado o centro do País e desbravado o principal mercado fonográfico do mundo, o norte-americano, Milton, então, volta-se à sua própria
essência: a terra que lhe é e a qual pertence.
Mas Milton,
carinhosamente chamado de Bituca por quem o ama, não faz isso sozinho, visto
que convoca seu talentoso Clube da Esquina, reforçando o time de amigos, inclusive.
Se "Minas", a primeira parte deste duo de álbuns gêmeos, explora a
grandiosidade das geraes Guimarães Rosa de Drummond, seja em sons e letras,
"Geraes" solidifica essa ideia quase que como um milagre: um homem
torna-se seu próprio som. Ou melhor: transforma-se em montanha para, do alto de
topografia, emitir a sonoridade da natureza. Samba, rock, soul, folk, jazz, toada, sertanejo, candombe, trova, oratório... world music, não só por acepção, mas por intuição, é o termo mais adequado para classificar.
A ligação entre
uma palavra e outra, entre um título e outro, entre um disco e outro, se dá
pelo mesmo acorde que desfecha “Simples”, última faixa de "Minas", e
abre, em ritmo de toada mineira, a linda "Fazenda" (“Água de beber/ Bica
no quintal/ Sede de viver tudo/ E o esquecer/ Era tão normal que o tempo parava").
A religiosidade católica do povo, traço cabal da cultura mineira, transborda
tanto em "Cálix Bento", com a marca do violão universal de Milton e o
emocionante arranjo de Tavinho Moura sobre tema da Folia de Reis do norte de
Minas, quanto em "Lua Girou", outro tema do folclore popular – este da
região de Beira-Rio, na Bahia – vertida para o repertório pela habilidosa mão do
próprio Bituca.
O lado
político, claro, está presente. Milton, consciente da situação do País e jamais
acovardado, não havia esquecido das recentes retaliações da censura que quase
prejudicaram seu "Milagre dos Peixes", de 3 anos antes, um verdadeiro
milagre de ter sido gestado com tamanha qualidade. O parceiro e produtor
Ronaldo Bastos, além da concepção da capa, é quem pega junto em "O
Menino", escrita anos antes pelos dois em homenagem ao estudante Edson
Luís, assassinado em 1968 em um confronto com a polícia no restaurante Calabouço,
no Rio de Janeiro, episódio que uniu a sociedade em protestos que culminaram
com a famosa Passeata dos Cem Mil contra a Ditadura Militar. E que luxo a banda
que o acompanha: João Donato (órgão), Nelson Angelo (guitarra), Toninho Horta
(guitarra), Novelli (baixo), e Robertinho Silva (bateria). Com a mira militares
a outros artistas naquele momento, como Chico Buarque, Milton pode, enfim,
lançar a música e não se calar diante da barbárie.
Quem também
garante o grito de resistência é um recente e igualmente genial amigo, com quem
tanto e tão bem Milton produziria a partir de então. Justamente o então visado Chico
Buarque. É com ele que Milton canta a canção-tema do filme "Dona Flor e
Seus Dois Maridos", de Bruno Barreto, um sucesso de bilheteria no Brasil à
época, "O que Será (À Flor da Pele)". Fortemente política, a letra,
cantada com melancolia e até tristeza, reflete os tempos de iniquidade humana:
"O que será que será/ Que dá dentro da gente que não devia/ Que desacata
a gente, que é revelia/ Que é feito uma aguardente que não sacia/ Que é feito
estar doente duma folia/ Que nem dez mandamentos vão conciliar/ Nem todos os
unguentos vão aliviar/ Nem todos os quebrantos, toda alquimia/ Que nem todos os
santos, será que será...". Gêmea de "O que Será (À Flor da Terra)",
Milton retribui o convite e divide com Chico os microfones desta última no álbum
dele naquele mesmo ano, o não coincidentemente intitulado “Meus Caros Amigos”.
 |
Milton e Chico: encontro mágico promovido à época
de "Geraes" e que deu maravilha à música brasileira |
A maturidade
filosófico-artística de Milton era tão grande, que as dimensões do que é grande
ou pequeno, do que é parte ou geral, se reconfiguram numa consciência elevada
de humanidade. A ligação universal de Milton com sua terra passa a significar o
ligar-se a América Latina. Afinal, sua Minas é, como toda a latinoamérica, dos
povos originários. “San Vicente” e "Dos Cruces", de "Clube da Esquina”, já traziam essa semente que “Geraes”, mais do que “Minas”, solidificaria, que é essa visão ampla do
território, dos povos. Primeiro, na realização do sonho de cantar Violeta Parra
com Mercedes Sosa. Apresentada a Milton por Vinícius de Moraes, La Negra divide
com Milton os microfones da clássica “Volver a los 17”. Igualmente, vê-se o encontro dos rios do
Prata e São Francisco, que não poderiam deixar de fazer brotar aquilo que os perfaz e
lhes dá sentido: água. É com o conjunto de jovens chilenos deste nome, amigos
recém conhecidos, que Milton instaura de vez, na acachapante “Caldera”, a
alma castelhana dos hermanos na música popular brasileira – convenhamos, muito
mais do que os músicos da MPG, cuja proximidade regional do Rio Grande do Sul propiciaria
tal fusão mais naturalmente. É o canto dos Andes – mas também de Minas – sem
filtro.
As amizades,
aliás, estão presentes em todos os momentos, e o território de Milton é como
uma grande aldeia onde ele, consciente de seu papel de pajé, mantém a egrégora
sob a força do amor. Fernando Brant, parceiro desde os primeiros tempos, coassina
aquela que talvez seja a música mais sintética de todo o disco: “Promessas De
Sol”. A sonoridade latina das flautas andinas, a percussão marcada pelo tambor leguero, o violão sincrético de Milton e os coros constantes e tensos
dão à canção a atmosfera perfeita para um os mais fortes discursos políticos
que a Ditadura presenciou em música. “Você me quer belo/ E eu não sou belo mais/
Me levaram tudo que um homem precisa ter”. Épica, como uma ópera guarani, a melodia
vai escalando de um tom baixo para, ao final, se encerrar com intensos vocais
de Milton bradando, denunciativo: “Que tragédia é essa que cai sobre todos
nós?”
Parece que não
cabe mais emoção num álbum como este. Mas cabe. A brejeira “Carro De Boi”, de Cacaso
e Maurício Tapajós (“Que vontade eu tenho de sair/ Num carro de boi ir por aí/ Estrada
de terra que/ Só me leva, só me leva/ Nunca mais me traz”) casa-se com a
inicial “Fazenda” seja na ludicidade ou na sonoridade ao estilo de cantiga
sertaneja. Mas tem também a jazzística e comovente “Viver de Amor”, em que novamente Ronaldo,
desta vez em parceria com o excepcional Toninho Horta, compõem para a voz cristalina
de Milton uma das canções românticas mais marcantes de toda a discografia
brasileira. Ronaldo, múltiplo, também tira da cartola mais uma vez com Milton
outra joia do disco, que é o samba-jongo “Circo Marimbondo”. Assim como Milton,
de ouvido tão absoluto quanto sensível, fizera ao contar com a voz de Alaíde Costa
para cantar com ele "Me Deixa em Paz" em “Clube da Esquina”, aqui ele
vai na fonte mais inequívoca para este tipo de proposta musical que une África
e Brasil: Clementina de Jesus. Na percussão, além de Robertinho no tamborim e
surdo, também outros craques da “cozinha”: Chico Batera, no agogô; Mestre
Marçal, cuíca; Elizeu e Lima, repique; e Georgiana de Moraes, afochê. E que
delícia ouvir o canto anasalado e potente da deusa Quelé acompanhada pelo coro de
Tavinho, Miúcha, Chico, Georgiana, Cafi, Fernando, Bebel, Ronaldo, Bituca, Vitória,
Toninho e toda a patota!
Para encerrar? A música que conjuga o primeiro e o segundo disco, o corpo e o espírito: “Minas Geraes”. O violão carregado de traços étnico-culturais de Milton, sua
voz que escapa do peito emoldurando-se ao vento, a docilidade das madeiras, a singeleza
do toque do bandolim. Clementina, em melismas, embeleza ainda mais a canção, lindamente
orquestrada por Francis Hime – outro novo amigo cooptado por Milton da turma de
Chico. Tudo converge para um final emocionante, que, como os próprios versos
dizem, saem do “coração aberto em vento”: “Por toda a eternidade/ Com o coração
doendo/ De tanta felicidade/ Todas as canções inutilmente/ Todas as canções
eternamente/ Jogos de criar sorte e azar”.
Ouvindo-se “Minas”
e “Gerais”, duas obras não somente maduras como altamente densas, simbólicas e encarnadas,
é impossível não ser fisgado pelo mistério da música de Milton Nascimento.
Encantamento que remete ao mistério da criação, o mistério da vida. Wayne Shorter, parceiro de Milton e mutuamente admirador, quando
perguntado sobre esta esfinge que é a obra do amigo, diz: “Bem, ouça você mesmo,
pois não há palavras para descrever. Apenas sinta”. Milton, que completa 80
anos de vida sobre o mundo, o seu mundo, é tudo isso: uma força da
natureza. Ele é mais do que música: é som em estado puro. É mais que tempo: é a
harmonia do espaço.
Milton é mais
do que homem: é pedra. Eterna.
********
É impressionante perceber hoje, em retrospectiva, que o encontro de dois gênios da música brasileira se deu exatamente na época deste trabalho. Depois de aberta a porteira da fazenda de Milton para Chico, só vieram coisas lindas. Além de parcerias nos anos subsequentes - inclusive no célebre "Clube da Esquina 2", de 1978 - naquele mesmo ano de 1976 os dois se reuniriam para gravar o compacto "Milton & Chico", lançado oficialmente um ano depois. Incluído em "Geraes" na versão para CD, esta gravação clássica dos dois traz duas faixas: a melancólica "Primeiro de Maio", que denuncia a vida oprimida do trabalhador brasileiro no feriado dedicado a ele, e "O Cio da Terra", também combativa e ligada ao trabalhador, mas do campo, que se tornaria uma das canções emblemáticas do repertório tanto de Chico quanto de Milton.
********
FAIXAS:
1. "Fazenda" (Nelson Angelo) - 2:40
2. "Calix Bento"(Folclore popular - Adap.: Tavinho Moura) - 3:30
3. "Volver a los 17" - com Mercedes Sosa (Violeta Parra) - 5:10
4. "Menino" (Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos) - 2:47
5. "O Que Será (À Flor da Pele)" - com Chico Buarque (Chico Buarque) - 4:10
6. "Carro de Boi" (Maurício Tapajós/ Cacaso) - 3:40
7. "Caldera (instrumental)" - com Grupo Agua (Nelson Araya) - 4:25
8. "Promessas do Sol" - com Grupo Agua (Milton Nascimento/ Fernando Brant) - 5:00
9. "Viver de Amor" (Toninho Horta/ Ronaldo Bastos) - 2:34
10. "A Lua Girou" (Milton Nascimento) - 3:42
11. "Circo Marimbondo" - com Clementina de Jesus (Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos) - 2:55
12. "Minas Geraes" com Grupo Agua e Clementina de Jesus (Novelli/ Ronaldo Bastos) - 5:13
Faixas bônus da versão em CD:
13. "Primeiro De Maio" - com Chico Buarque (Milton Nascimento/ Chico Buarque) - 4:46
14. "O Cio Da Terra" - com Chico Buarque (Milton Nascimento/ Chico Buarque) - 3:48
********
OUÇA O DISCO
Milton Nascimento - "Geraes"
Daniel Rodrigues