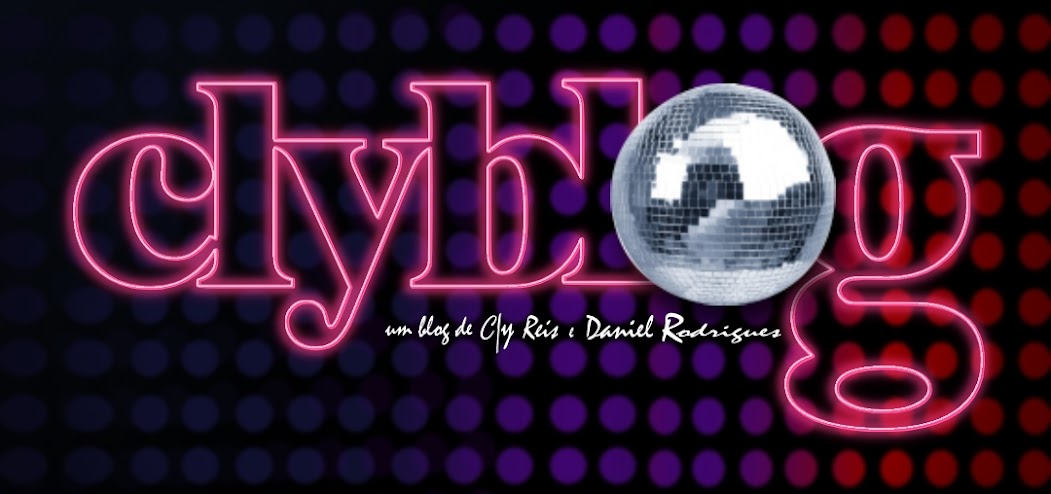por Roberto Sulzbach
Em 11 de dezembro de 1970, John Lennon lançava sua primeira investida pós Beatles: o "Plastic Ono Band". Vinte e nove anos depois, em 11 de dezembro de 1999, este, que vos escreve, nascia, em um hospital da zona norte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Comemorar meu aniversário junto dessa obra chega a ser um motivo de orgulho. Um marco na música pop e um último prego no caixão do movimento hippie, o qual tinha o próprio Lennon como símbolo. O disco contou com Klaus Voormann, amigo desde a época que viveu em Hamburgo com o restante do Fab Four; Phil Spector, produtor e pianista; Billy Preston, também no piano; Yoko Ono, creditada como “ar” (Lennon depois explicou que ela montou a "atmosfera’ das músicas"); Ringo Starr, na bateria (por óbvio) e Mal Evans, creditado como “chá e simpatia”.
Meu primeiro contato com a obra foi em uma das milhares de vezes que assisti Os Simpsons com o meu pai, em uma época que a série ainda era criticamente aclamada como uma grande paródia da sociedade americana do fim do século XX/início do XXI. O segundo capítulo da décima quinta temporada da série, traz o retorno de Mona, mãe ausente do personagem Homer (por ser uma hippie ativista contra grandes corporações em fuga desde o final dos anos 60) em um episódio comovente. Ao final, Homer é “abandonado” novamente por sua mãe e após ela o deixar, não haveria música melhor para sintetizar o momento que “Mother”.
Julia Stanley, mãe de John, cedeu a guarda do filho, quando ainda era pequeno para sua irmã, por conta de denúncias de negligência com o próprio filho. O pai de Lennon, Alfred, era um marinheiro, que raramente se encontrava em Liverpool e não viu o filho crescer. Julia morreu quando John tinha apenas 16 anos de idade, vítima de um atropelamento, justo em um momento em que o garoto se reaproximava da mãe. “Mother” é a sintetização da raiva, tristeza e desabafo, em forma de berros, que estavam guardados no artista. A letra inicia com “Mãe, você me teve, mas nunca tive você; eu queria você, mas você não me queria.” “Pai, você me deixou, mas nunca te deixei; Eu precisava de você, mas você não precisava de mim”. Em seguida, John esboça uma despedida, como se quisesse abandonar esse passado com “agora, eu só preciso lhes dizer; adeus”, para que então, Lennon se contrarie na estrofe seguinte dizendo “mamãe, não vá! Papai, volte para casa”. De forma alguma é necessário ter passado por situação semelhante para entender o que John sentia em relação a sua família.
“Hold On” segue o disco com um riff de guitarra tranquilo, em que John começa a se acalmar e reafirmar que vai dar tudo certo. A música é doce e oferece um certo refúgio à pedrada que o ouvinte escutou, como um choro triste, e provavelmente emula o que Lennon passou ao longo das gravações do álbum (que era interrompido constantemente por crises de choro e gritos por parte dele). “I Found Out” trata sobre falsas religiões, cultos e até mesmo, a idolatria que ele exercia sobre uma massa gigantesca de ouvintes “eles não me queriam, então me fizeram uma estrela”, cantou.
Em “Working Class Hero”, em estilo Dylanesco (em "Masters of War", principalmente), Lennon escreve uma de suas maiores músicas. Apenas portando o violão, O "Herói da Classe Trabalhadora" se rebela contra o sistema imposto, e questiona toda a máquina capitalista e a eterna luta incentivada à população por subir na escada corporativa e econômica. A música causou impacto tão grande, que um tal de Roger Waters passou a questionar a produção de suas letras psicodélicas e começou a expor maiores críticas à sociedade, que resultou, inicialmente, em "The Dark Side Of The Moon", do Pink Floyd.
“Isolation” finaliza o lado A, abordando a solidão que o autor enfrentava, tanto por ter se separado de seus amigos, e banda, quanto pelas críticas que ele e Yoko sofriam constantemente por parte da mídia. “Remember” nos traz uma realidade paralela, em que Guy Fawks (membro da “Conspiração da Pólvora”, que planejava bombardear, em 1605, a Câmara dos Lordes) conseguiu colocar em prática seu plano. Uma anedota de aquecer o coração é que a canção foi gravada no dia do aniversário de Lennon, e felizmente, foi registrado em vídeo, os amigos John e Ringo recebendo a visita do outro ex-companheiro de banda, George Harrison, que entregou de presente, uma demo de “It’s Johnny’s Birthday” (de "All Things Must Pass", de Harrison).
Talvez a canção mais ingênua e doce de Lennon seja “Love”. Simples e direta: “O amor é real, real é o amor”. Não há muito o que dizer de uma música que, em poucas palavras, e um piano "silencioso", consegue transcorrer uma imensidão de significados que não podem ser quantificados. “Well Well Well” descreve pequenos casos da vida à dois de John e Yoko, como caminhar em um parque, dividir uma refeição e falar sobre temas como ‘revolução’ e ‘libertação das mulheres’. “Look at Me” nos traz um Lennon direto do “White Album”, perguntando ao ouvinte “quem que devo ser?”.
“God” é filosófica, existencial, e acima de tudo, impactante. Uma canção que começa com “Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor”, não tem como não chamar a atenção. Com um piano espaçado e dramático, Lennon subverte todas as crenças que possuía, e não possuía, dizendo que não acredita na Bíblia, tarot, Jesus, Hitler, Kennedy, Budha, Yoga, Elvis, Zimmerman (Bob Dylan), e mais importante, não acredita nos Beatles. Após citar sua antiga banda, uma pausa dramática precede a frase “eu só acredito em mim. Em Yoko e em mim”. Ele segue com “o sonho acabou” e “Eu era a Morsa (referência a I Am The Walrus), agora sou o John”. Ou seja, estamos diante do verdadeiro John Lennon, e que é necessário deixar o passado Beatle para trás. O álbum finaliza com “My Mummy’s Dead”, uma balada curta e poderosa, que faz o contraponto com “Mother”, pois ao invés dos berros, Lennon canta calmamente que ainda não superou a morte de sua mãe, mesmo que ela tenha morrido há tanto tempo.
Acima de tudo, "Plastic Ono Band" nos apresenta quem era o ser humano John Lennon, mesmo que ele tenha representado ¼ de um dos maiores fenômenos da música mundial. Da minha parte, acho uma coincidência barbara a pequena conexão de nascer no mesmo dia em que o disco foi lançado, anos antes. Mesmo com a perda do meu parceiro de Simpsons há muitos anos (e de música, inclusive era fã do Lennon), fico feliz de ter, tanto Homer, quanto John, para me acompanhar na sequência da minha caminhada sem ele.
FAIXAS:
1. "Mother" - 5:34
2. "Hold On" - 1:52
3. "I Found Out" - 3:37
4. "Working Class Hero" - 3:48
5. "Isolation" - 2:51
6. "Remember" - 4:33
7. "Love" - 3:21
8. "Well Well Well" - 5:59
9. "Look at Me" - 2:53
10. "God" - 4:09
11. "My Mummy's Dead" - 0:49